Fatores que influenciam o alcance das aeronaves em rota
Ao descrevermos anteriormente os diferentes regimes de cruzeiro que podem ser
empregados pelas aeronaves comerciais a jato, comentamos sucintamente que
determinados fatores influenciam na escolha da altitude ideal do voo de cruzeiro.
Vejamos com um pouco mais de profundidade os principais, como a altitude e o
peso da aeronave.
a. Altitude Pressão:
Nos voos de cruzeiro, a tração deve ser igual ao arrasto, para que a aeronave se
mantenha nivelada em uma velocidade constante. Para os aviões que cruzam
em regime subsônico, ou seja, aeronaves de baixa performance, Santive 2011
afirma que ao fixarmos o peso e o ângulo de ataque, o arrasto será independente
da altitude de voo, haja vista que em altitudes maiores o arrasto será reduzido
pela menor densidade do ar, mas também será compensado pelo aumento da
velocidade da aeronave.
Nos aviões a jato o alcance específico cresce nas grandes altitudes. Nessas
altitudes, uma mesma tração é obtida com menor consumo de combustível,
o que lhe proporciona maiores velocidades e consequente maior alcance
específico. Entretanto, conforme já estudamos, aeronaves de alta performance e
que operam em regime transônico estão sujeitas aos efeitos de compressibilidade
do ar (quando voam acima do Mach Crítico). Uma aeronave voando com Número Mach elevado fatalmente sofrerá os efeitos do crescente arrasto
causado pelas Ondas de Choque. Assim, acima de um determinado limite de
velocidade, que dependerá de cada modelo de avião, o arrasto total torna-se
maior em grandes altitudes do que em voos mais baixos.
Então, para aeronaves a jato (dotadas de motores turbofan ou turbojato) voando
em grandes altitudes, deve-se estar atento à escolha de um nível de voo
que limite a velocidade da aeronave abaixo do Número Mach Divergente
(revise este conceito no Capítulo sobre Aerodinâmica de Alta Velocidade), visto
que acima do MachDIV o arrasto de compressibilidade aumenta de maneira
considerável. Usualmente, na escolha da altitude de voo que permita a
maximização do alcance específico, observa-se a regra de manter a velocidade
de cruzeiro logo acima do Mach Crítico. A altitude ótima, que maximiza o Alcance
Específico em regime de LRC, será tanto maior quanto menor o peso da aeronave
(SAINTIVE, 2011), conforme se observa na figura abaixo.
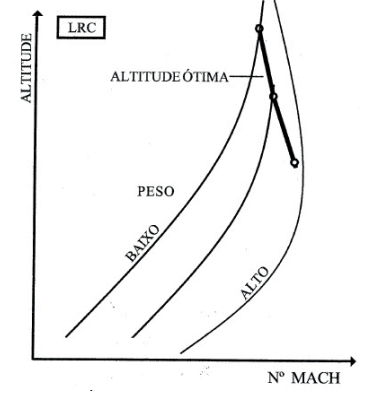
Além dos fatores anteriormente mencionados, a escolha da altitude ótima de voo
também dependerá da distância total da etapa a ser voada. Logicamente que,
uma aeronave voando uma rota que demandará quatro horas de voo, poderá
escolher a máxima altitude de voo que forneça um grande alcance específico
(para atingir o nível ótimo de voo, talvez a aeronave tenha que recorrer à subida
Step Climb que estudamos anteriormente).
Entretanto, para o planejamento de uma etapa de voo de somente cerca de
45 minutos (por exemplo, um voo da ponte aérea Rio- São Paulo), podemos
compreender que a aeronave não poderá se “dar ao luxo” de voar próximo ao
seu teto operacional (onde provavelmente o alcance específico seria maximizado,
uma vez que estará leve por carregar pouco combustível), pois antes mesmo de
atingir o nível ótimo de voo a aeronave já estaria iniciando os procedimentos de
descida para pouso. Normalmente, os fabricantes de aeronaves fornecem dois
tipos de cartas para consulta de nível ótimo de cruzeiro, sendo uma para voos
curtos (até 300 milhas náuticas) e outra para voos acima desse limite.
A altitude ideal, definida de acordo com o peso da aeronave, também não leva
em conta o consumo total de combustível durante um voo inteiro. Para voos de
menor alcance, faz mais sentido definir a altitude ideal de cruzeiro como a altitude
em que a totalidade da queima de combustível de voo é minimizada (isto é,
minimizando o combustível Subida + Cruzeiro + Descida).
Assim, deve ser observado que em voos muito curtos o segmento de cruzeiro
nivelado pode ser pequeno ou até inexistente (descida iniciando imediatamente
após a subida). Nesse caso, a fim de permitir a ocorrência de ao menos uma
pequena etapa do voo nivelado (para o serviço de bordo, ou para que os
passageiros possam usar o toilete, por exemplo), o operador deve levar em conta
que isso implicará uma queima total de combustível maior. Como exemplo, a
EMBRAER publica no Manual de Operações (AOM) da aeronave ERJ 145 uma
tabela de altitude de cruzeiro baseada no consumo mínimo de combustível de
voo, e outra com pelo menos 40% do tempo total de voo em cruzeiro nivelado.
Outro aspecto importante na escolha da altitude ótima de voo é a existência de
ventos em altitude. É intuitivo percebermos a influência do vento no alcance da
aeronave, em termos de distância no solo a percorrer. Componentes de vento de
proa reduzem o alcance, e os de cauda o aumentam. Assim, a escolha da altitude
de voo de cruzeiro deve levar em conta esse importante fator. Dependendo
da época do ano e da região em que se voa, correntes de ventos muito fortes
(correntes de jato) podem causar grande influência no alcance da aeronave,
e podem ser utilizadas em favor do seu deslocamento, sempre que existirem
componentes de cauda.
Ventos fortes de proa podem fazer com que o piloto seja obrigado a escolher um
nível de voo teoricamente não tão econômico, em termos de alcance específico,
mas que fornecerá um alcance específico melhor do que aquele inicialmente
escolhido e que continha componentes de vento de proa muito fortes. Os
fabricantes de aeronaves costumam publicar em seus manuais as chamadas
tabelas de “Wind-Altitude Trade”, que fornecem indicações para a escolha
de altitudes de voo alternativas, para os casos de existência de ventos não
favoráveis na altitude ótima de voo para o peso da aeronave (EMBRAER 2001).
b. Peso da Aeronave
Sabemos que, para manter-se nivelada, uma aeronave deve ter compensadas as
forças que agem sobre si, mantendo um equilíbrio. Quanto maior o peso, maior
deve ser a sustentação gerada pelas asas, o que se consegue somente por
meio do incremento na tração, o que gera aumento de consumo de combustível.
Assim, para uma mesma altitude, uma aeronave com peso menor apresentará um
Alcance Específico maior. A figura abaixo exemplifica isso.
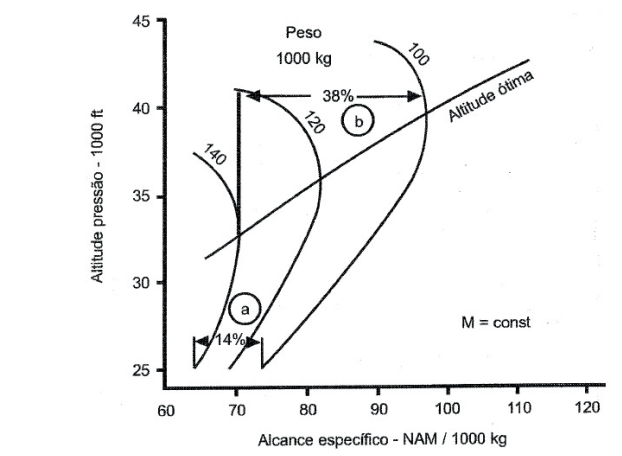
Segundo Saintive (2011), e observando-se o gráfico da figura anterior, a redução
de peso tem influência maior sobre o Alcance Específico, na medida em que
se voa mais alto. No exemplo da figura, a redução de peso de 140 para 100
toneladas fornece um acréscimo de 14% no Alcance Específico, num voo a 25 mil
pés, ao passo que a mesma redução de peso na altitude ótima de cruzeiro chega
a melhorar em 38% o Alcance Específico. Percebe-se, então, a importância da
escolha de uma altitude ótima para o voo em cruzeiro. À medida que a aeronave
voa, seu peso vai sendo reduzido por conta da queima de combustível, e o voo
passa a ser cada vez mais econômico.
A figura a seguir demonstra mais uma vez a influência do peso na definição
das velocidades de cruzeiro que tratamos, e nos seus respectivos alcances
específicos.
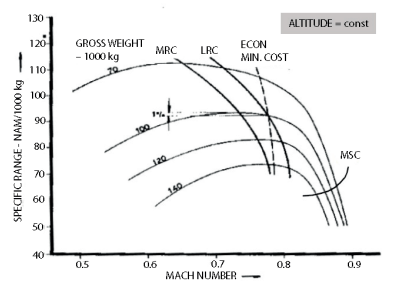
Vibrações em Baixa e Alta Velocidade – Capacidade de Manobra (Margem de Buffet)
No Capítulo anterior estudamos os efeitos do descolamento da camada limite
sobre um aerofólio. Na ocasião, vimos que tal descolamento pode ocorrer
tanto em baixas quanto em altas velocidades, por motivos distintos, e provocar
vibrações (denominadas Buffet) na aeronave. Recordando, o Buffet de alta
velocidade é oriundo da formação de Ondas de Choque normais (quando da
ocorrência de fluxos de ar supersônicos, que desaceleram após a onda de
choque e provocam o descolamento de filetes).
Por outro lado, o Buffet de baixa velocidade está associado à condição de
elevado ângulo de ataque do aerofólio, proveniente de uma operação em elevada
altitude ou da redução muito grande da velocidade (a depender do peso da
aeronave ou do fator de carga “G” à qual está exposta). Ou seja, o Buffet de baixa
velocidade está associado à situação de Estol da asa e, em elevadas altitudes,
também é um aviso da proximidade desse fenômeno perigoso para o voo.
Saintive (2011) relembra que nas aeronaves movidas a motores convencionais
(que voam em baixas altitudes e velocidades) o Buffet de baixa ocorre em
velocidades indicadas constantes, ao passo que nas aeronaves a jato os sinais de
Buffet ocorrem com velocidades cada vez maiores, na medida em que ganham
altitude. Já o Buffet de alta, provocado pelas Ondas de Choque, ocorrem com
velocidades Mach constantes, porém, com velocidades indicadas cada vez
menores, na medida em que a aeronave ganha altitude (quanto maior a altitude,
menor a temperatura e menor a velocidade do som).
Conforme já comentamos em duas ocasiões anteriores neste livro didático, mas
agora visto sob outra ótica, em uma determinada altitude e na velocidade em
que os dois limites de Buffet (o de alta e o de baixa) coincidem, dizemos que a
aeronave se encontra no chamado “Coffin Corner” ou “Canto do Caixão”, e essa
altitude denomina-se Teto Aerodinâmico da aeronave (para um determinado
peso). Nessa condição, a aeronave encontra perigosa tendência de perda de
controle em voo, e por isso deve ser muito conhecida para poder ser evitada.
Já para uma dada velocidade, peso e empuxo, existe uma altitude máxima
na qual o voo reto e nivelado é possível, e essa “altitude máxima” também é
chamada de “teto de serviço”. A fim de fornecer alguma margem de desempenho
para as aeronaves que voam na altitude máxima, o Teto de Serviço é usualmente
definido como a altitude máxima para uma determinada velocidade, peso e
empuxo, na qual a aeronave ainda tem uma taxa residual de subida de, por
exemplo, 100 a 300 pés por minuto (ou seja, um pouco abaixo do Teto Absoluto).
O Teto de Serviço (limite de altitude de voo de cruzeiro especificado pelo
fabricante, para fins operacionais) em que um avião pode voar é limitado por dois
fatores: Empuxo do motor e capacidade da asa em gerar sustentação suficiente,
sem a ocorrência de Buffet.
O Teto de Serviço de uma aeronave é sempre menor do que o Teto
Aerodinâmico. Entretanto, fatores de carga “G” podem reduzir a altitude do
Teto Aerodinâmico até o Teto de Serviço – a depender do peso e do quanto de
carga é aplicada à aeronave (SAINTIVE, 2011). Cargas “G” podem ser oriundas de
diversos fatores, como a realização de uma curva, rajadas de vento ou turbulência.
Então, a “Margem de Buffet” pode ser compreendida como a capacidade de
manobra da aeronave, e representa a capacidade da asa de gerar sustentação
suficiente para o peso do avião, em uma determinada altitude. Os fabricantes
de aeronaves geralmente publicam gráficos que mostram em que velocidade
a aeronave começa a experimentar Buffet de alta e baixa velocidade, para um
determinado peso e altitude. Esses gráficos também mostram correções para
fatores de carga maiores do que “1”, que podem ser usados para determinar a
velocidade de Buffet em caso de voo em curva ou em turbulência. A figura abaixo
mostra um típico gráfico desse tipo.
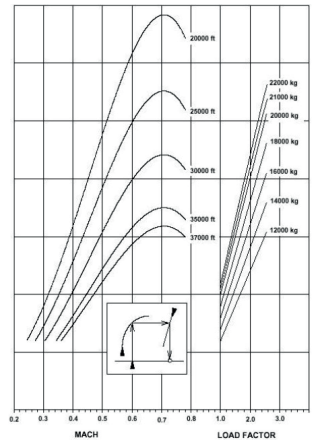
Para um determinado peso, fator de carga e altitude, o gráfico mostra as
velocidades mínimas e máximas (margem) em que a aeronave pode voar sem
experimentar Buffet. Recordando, se as velocidades mínima e máxima coincidem,
diz-se que a aeronave atingiu o “Coffin Corner”. Nesta velocidade não é possível
acelerar ou desacelerar, caso contrário ocorreria a ocorrência de Buffet, e a única
opção deixada para o piloto é descer para uma altitude menor, até que o motivo
da carga “G” tenha cessado, ou que o peso da aeronave tenha sido reduzido.
A seguir, temos um outro exemplo de gráfico de “Margem de Buffet”.
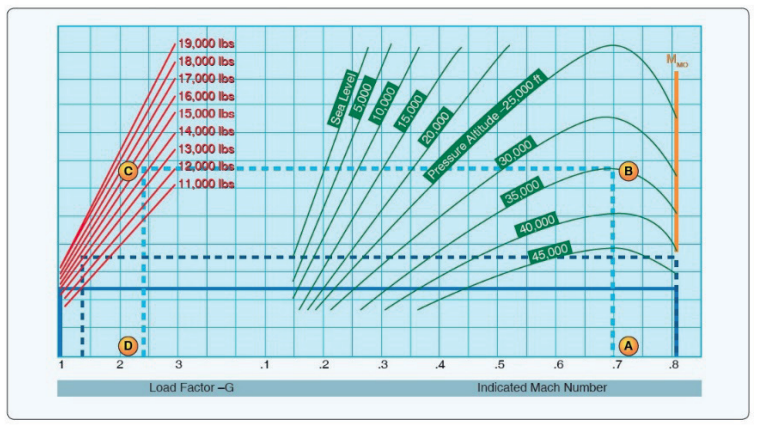
O aumento do peso bruto ou do fator de carga (fator “G”) aumenta o Buffet de
baixa velocidade e diminui o Buffet de Mach (de alta velocidade). Um avião a jato
típico, voando a 51.000 pés de altitude a 1,0 G pode encontrar Buffet de Mach
ligeiramente acima do MMO do avião (0,82 Mach) e Buffet de baixa velocidade
a 0,60 Mach. No entanto, um fator de carga de apenas 1,4 G (um aumento de
apenas 0,4 G) pode ocasionar o início de Buffet na velocidade ótima de cruzeiro
de 0,73 Mach, e qualquer mudança na velocidade aerodinâmica, no ângulo de
inclinação das asas, ou a ocorrência de rajadas de vento podem trazer essa
aeronave a uma situação de risco.
Consequentemente, uma altitude máxima de voo de cruzeiro deve ser
selecionada criteriosamente, a fim de permitir a existência de uma margem
suficiente de carga “G”, para que a aeronave não venha a sofrer os perigosos
efeitos de Buffet em altitude.
O piloto em transição para uma aeronave a jato deve ter em mente que a
manobrabilidade desse tipo de avião é particularmente crítica, especialmente nas
elevadas altitudes. Alguns aviões a jato têm intervalo estreito entre os Buffets de
alta e baixa velocidade. Uma velocidade que o piloto deve ter firmemente fixada é
a de penetração em ar turbulento, recomendada pelo fabricante para o modelo do
avião. (USA, 2016, pilot flying handbook).
Apenas para relembrar um conceito básico sobre aerodinâmica, que você já deve
ter estudado, e esclarecer o que falamos acima sobre carga “G”. O fator de carga
é a relação entre uma força (uma carga) gerada pela asa, para contrapor-se ao
peso da aeronave. Uma aeronave em voo reto e nivelado está sujeita a um fator de
carga “G” de valor igual a 1, pois a sustentação (a força gerada pela asa) é igual ao
peso da aeronave. Ao efetuar uma curva, por exemplo, a aeronave deve produzir
mais sustentação – caso deseje manter o voo nivelado. Como exemplo, um avião nivelado em altitude e empregando uma inclinação de asas de 45 graus estará
sujeito a um fator de carga “G” de 1,4 (o fator de Carga “G” pode ser obtido da
seguinte maneira: G = 1/cos α, sendo α o ângulo de inclinação das asas).
Dispositivos de Aviso de Estol
Das situações de Buffet que comentamos anteriormente, todas elas tendem a
provocar o Estol da asa – parcial ou total, a depender da intensidade. Assim,
seja para os casos de Buffet de alta ou baixa velocidade, sempre existirá uma
velocidade associada a cada um deles, que dependerá de inúmeros fatores como
fatores de carga “G”, altitude de operação, peso e configuração da aeronave,
Número Mach mantido etc.
Logicamente, a menos que em situações de treinamento (normalmente
executadas em simuladores de voo), um piloto não deve ingressar em uma
situação de Estol com uma aeronave comercial de transporte, pois isso pode
gerar descontrole total do voo e consequências imprevisíveis. Assim, os pilotos
devem ser capazes de perceber ou serem avisados da proximidade da ocorrência
de Estol, com margens seguras para poderem interferir e reverter a situação.
Segundo Saintive (2011), o órgão regulador dos EUA (FAA) publica, em sua
documentação FAR 25.207, que o piloto deve receber da aeronave um aviso claro e
distinto da aproximação de uma situação de Estol, com uma antecedência mínima
de 7% (a legislação brasileira ainda complementa, alertando que esse sinal não
pode ser somente visual, mas também sim sonoro). Muitos aviões possuem perfis
aerodinâmicos de asas que acabam “informando” ao piloto sobre a proximidade
do Estol, antes mesmo da margem exigida de 7%. Na ocorrência dos primeiros
descolamentos de filetes de ar dessas asas, a consequência é uma leve trepidação
que pode ser sentida pelos pilotos e servir como um sinal de alerta.
Entretanto, como bem pontua Saintive (2011), as complexas asas das modernas
aeronaves comerciais são dotadas de dispositivos e perfis que tendem a retardar
o descolamento dos filetes de ar, e muitas vezes não são capazes de, por si só,
“informarem” aos pilotos sobre a proximidade do Estol – ou seja, os pilotos não
podem reconhecer a proximidade do Estol em tempo adequado para uma efetiva
reação – a menos que um sistema específico os alerte.
Nas aeronaves comerciais, esse sistema é o Stick Shaker (e o Stick Pusher) – para
rever esse assunto, sugerimos que retorne ao Capítulo 1, quando tratamos sobre
os “Efeitos das Ondas de Choque Normais nos voos Transônicos”, especificamente
no item que trata do “Estol de Mach”. Saintive (2011) também relembra que as
aeronaves dotadas de Sidestick (um manche na lateral do painel de voo de cada
piloto, como nas aeronaves da família Airbus) não operam os sistemas Stick Shaker
e Pusher. Ao invés, essas são dotadas de um sistema que limita o ângulo de ataque
(AOA) a valores em que não seja possível ocorrer o Estol.
Em resposta a um aviso de Estol ou de pré-estol– seja ele percebido por qualquer
meio (por um sistema específico de aviso, ou por vibrações características da
perda de sustentação), a ação apropriada do piloto deve ser a de “baixar” o nariz
até que o aviso cesse e, então, nivelar as asas e ajustar o empuxo para retornar
ao voo normal. O tempo decorrido para realizar essas ações com efetividade
geralmente é pequeno, particularmente em baixas altitudes onde existe
significativa potência disponível.
É importante entender que a redução do AOA elimina a continuação do Estol,
mas somente a aplicação de tração extra será capaz de permitir que a descida
seja interrompida, quando a asa voltar novamente à capacidade de gerar a
sustentação necessária. Em altitudes elevadas, a técnica de recuperação de Estol
é a mesma. O piloto terá que reduzir o AOA, baixando o nariz até que cesse o
aviso de Estol. No entanto, mesmo após o ângulo de ataque ter sido reduzido
para um valor em que a asa normalmente é capaz de desenvolver sustentação
adequada, o avião ainda irá precisar acelerar. Em altitudes elevadas, onde o
impulso disponível é significativamente menor do que em altitudes mais baixas, a
única maneira de conseguir tal aceleração pode ser baixando ainda mais o nariz e
utilizar a força da gravidade (USA, 2016 – airplane flying handbook).
Na situação anterior, vários milhares de pés ou mais de perda de altitude podem
ser necessários para recuperar completamente uma situação de Estol, em uma
aeronave grande e pesada. As discussões acima cobrem a maioria dos aviões; no
entanto, os procedimentos de recuperação de uma determinada marca e modelo
de avião podem diferir ligeiramente, conforme recomendado pelo fabricante, e
estão contidos no manual de voo aprovado pela autoridade certificadora do avião.
Voo em Ar Turbulento
Já tratamos anteriormente sobre alguns dos aspectos do voo em regiões de
turbulência, quando estudamos a questão das Margens de Buffet. Voar em zonas
de turbulência gera fatores de carga positivos ou negativos sobre a aeronave, que
podem ser perigosos para a sua estrutura, a ponto de provocar fadiga extrema e
até rupturas em componentes aerodinâmicos.
Comentamos anteriormente que alguns aviões a jato têm intervalo estreito entre
os Buffets de alta e de baixa velocidade. Por esse motivo, uma velocidade
que o piloto deve ter firmemente fixada é a de penetração em ar turbulento,
recomendada pelo fabricante para o modelo do avião. Mas, quais as
características dessa velocidade específica?
Segundo Saintive (2011), a Velocidade de Penetração em Ar Turbulento de
satisfazer dois requisitos:
a. ser suficientemente alta para que uma rajada de vento ascendente
não provoque o Estol da aeronave;
b. ser suficientemente baixa para que o fator de carga provocado por
uma rajada não ultrapasse os valores máximos recomendados pelas
autoridades certificadoras – nos EUA e na Europa + 2,5 g e (-) 1 g
para as aeronaves de transporte.
Apesar de todos os progressos da engenharia aeronáutica, ao utilizarem materiais
cada vez mais flexíveis e resistentes nos perfis aerodinâmicos das aeronaves
modernas, aliado ao enflechamento das asas (que reduz o efeito da turbulência
sobre elas), uma aeronave ainda pode ser literalmente destruída em voo por
efeitos de turbulência severa.
A velocidade de penetração em ar turbulento é normalmente a velocidade capaz
de proporcionar a maior margem entre os Buffet de alta e de baixa velocidade, e
pode ser consideravelmente maior do que a velocidade de manobra do projeto
(VA). Isso significa que, ao contrário dos aviões a pistão, há ocasiões em que um
avião a jato deve voar acima da VA durante os encontros com turbulência.
Os pilotos que operam aviões em altas velocidades devem ser adequadamente
treinados para operá-los com segurança, e esse treinamento não pode ser concluído
até que estejam completamente instruídos sobre os aspectos críticos dos fatores
aerodinâmicos pertinentes ao voo de Mach em grandes altitudes (USA, 2016).
Como exemplo, a Velocidade de penetração em ar turbulento para as aeronaves da
família Embraer 145 é de aproximadamente 250 KIAS ou Mach 0,63. Já para uma
aeronave Boeing 737-300 tal velocidade gira em torno de 280 KIAS ou Mach 0,7.
Afundamento – Driftdown
Para a maioria dos pesos e altitudes normais de cruzeiro, um avião não será
capaz de manter a altitude de cruzeiro após uma falha de motor, e começará a
descer (Driftdown). A fim de permanecer o mais alto possível, o piloto usará o
empuxo máximo contínuo nos demais motores e desacelerar para a velocidade
ideal Driftdown, que resulta no menor gradiente de descida possível. O avião
então descerá ao longo do que é chamado de perfil ótimo de Driftdown, que
manterá o avião o mais alto possível durante a descida.
Segundo a EMBRAER (2001), os regulamentos exigem que o desempenho real
do avião seja calculado com a sua configuração mais conservadora (pior posição
do CG e motor crítico inoperante) – o que fornece a trajetória bruta de voo
e, em seguida, degradado ainda mais com um gradiente de 1,1% para aviões
bimotores, 1,4% para aviões de três motores e 1,6% para aviões de quatro
motores. Essa trajetória com gradiente reduzido é chamada de trajetória líquida
de voo e é usada para garantir a liberação de obstáculos em rota.
Durante a descida, o empuxo disponível aumenta à medida que a aeronave desce.
Ao atingir uma certa altitude ele será igual ao arrasto do avião, e esse irá então
nivelar. Essa altitude é chamada de altitude bruta de nivelamento. Quando
corrigida pelas margens de gradiente de 1,1%, 1,4% ou 1,6% (para aeronaves
com dois, três ou quatro motores respectivamente), passa a ser chamada de altitude
líquida de nivelamento e dependerá da temperatura atmosférica e do peso do avião.
Os regulamentos também exigem que o avião seja capaz de livrar todas as
elevações do terreno por uma determinada margem, no evento de falha de um
motor. EMBRAER, 2001 pontua a existência de dois meios de conformidade para
a liberação de obstáculos em rota:
- A altitude líquida de nivelamento deve livrar todos os obstáculos em rota em pelo menos 1000 pés; ou
- A trajetória líquida de voo deve livrar todos os obstáculos por ao
menos 2000 pés, entre o ponto onde presume-se a ocorrência da
falha do motor e um aeroporto onde o pouso possa ser feito.
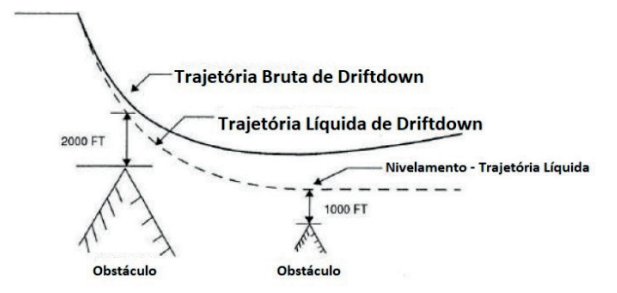
Saintive (2011) igualmente aborda a questão do Driftdown. O autor relembra que
se uma aeronave experimentar a perda de um motor durante a subida ou em voo
de cruzeiro sobre uma região montanhosa, a estratégia do Driftdown deverá ser
empregada da seguinte forma:
- o piloto deve selecionar o regime de potência máxima contínua nos
motores remanescentes; - deixar a velocidade da aeronave desacelerar até a velocidade de
Driftdown, que corresponde ao ângulo de ataque onde a relação Cl/Cd é
máxima (esta velocidade é indicada ao piloto por meio de uma marcação
verde, nas aeronaves dotadas de PFD – Primary Flight Display); - subir ou descer até atingir a altitude (o teto) de Driftdown.
EMBRAER (2001) ainda pontua que é possível utilizar as curvas de Driftdown para
definir procedimentos operacionais. Antes da partida, uma análise detalhada deve
ser feita usando mapas do terreno, com a plotagem dos pontos mais altos dentro
da largura do corredor prescrito ao longo da rota (normalmente um corredor de 5
NM para cada lado da rota). O próximo passo é determinar se é possível manter o
voo nivelado com um motor inoperante, a pelo menos 1000 pés acima do ponto
mais alto de cruzamento ao longo de toda a rota. Se isso não for possível, ou
se as penalidades de peso associadas forem inaceitáveis, um procedimento de
Driftdown deve ser elaborado, assumindo-se a perda do motor no ponto mais
crítico da rota, de maneira a garantir que os obstáculos serão ultrapassados em
ao menos 2000 pés durante a descida.
A altitude mínima de cruzeiro e o Ponto de Não Retorno (PNR) são
determinados pela interseção das duas curvas de Driftdown, como ilustrado
mais abaixo. Se ocorrer uma falha no motor após o PNR, o avião poderá prosseguir
na rota original. Caso a falha ocorra antes do PNR, o avião terá que retornar sobre a
rota já voada, ou por uma rota alternativa. Em qualquer direção de voo, a trajetória
líquida de Driftdown deve livrar os obstáculos por ao menos 2000 pés.
Suponha que você esteja iniciando a operação ao longo de uma rota que sobrevoa
o perfil de terreno a seguir:
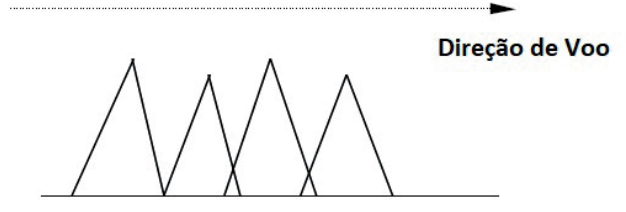
O primeiro passo é calcular o caminho da trajetória líquida de Driftdown. Haverá
dois caminhos: um considerando a componente de vento para uma descida ao
longo da direção inicial de voo, e outro considerando a componente de vento na
direção oposta do voo, em retorno.
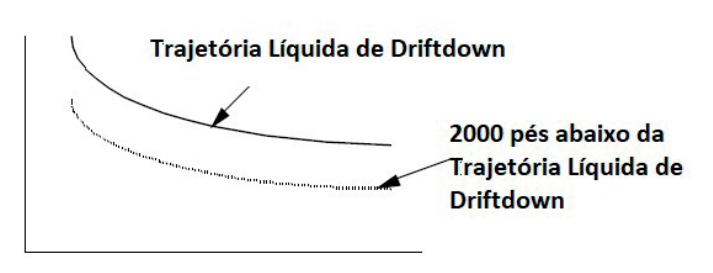
A ideia é combinar a curva de Driftdown com o perfil do terreno.
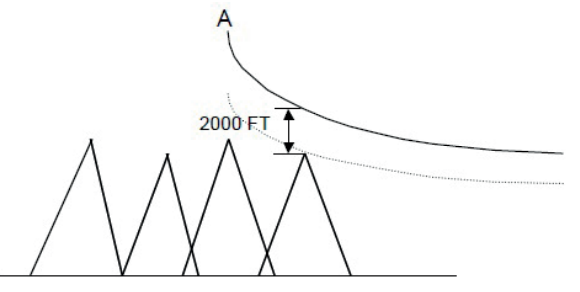
O ponto em que a linha tracejada toca o terreno é o primeiro ponto (A) mais distante
ao longo do trajeto, onde o piloto pode decidir por permanecer na rota.
Continuando a partir de qualquer lugar antes desse ponto, resultaria na passagem
da aeronave muito perto do terreno ou até mesmo colidindo com ele.
Agora, o procedimento é repetido, mas dessa vez usando as curvas de Driftdown
na direção oposta, e começando com as curvas à esquerda do perfil do terreno.
Movem-se as curvas para a direita, até o tracejado da curva tocar o perfil do
terreno. Issso representa o último ponto (B) ao longo do percurso, onde o piloto
pode escolher fazer um giro de 180 graus e retornar:
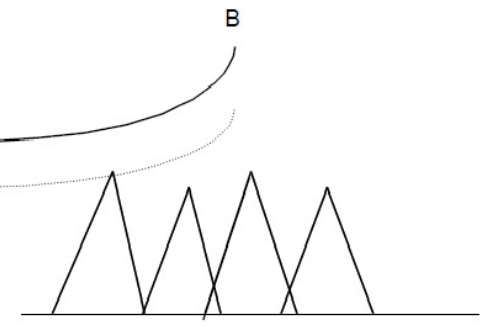
A altitude na qual as linhas sólidas se cruzam é a altitude mínima de voo, e o
encontro delas define o Ponto de Não Retorno (PNR). Se ocorrer uma falha no
motor antes do PNR, o piloto deve executar um retorno de 180 graus e cumprir o
Driftdown em uma direção oposta ao voo original. Se o motor falhar após o PNR, o
Driftdown deve ser feito ao longo da direção de voo original.
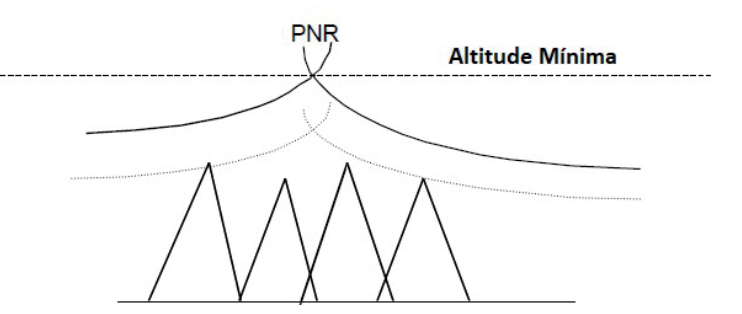
Voos em altitudes inferiores à Altitude Mínima de Voo não são permitidos, uma
vez que não garantem que a aeronave seja capaz de livrar as elevações do
terreno com segurança. A figura abaixo descreve a manobra de Driftdown, tanto
para subir quanto para descer com um ou dois motores inoperantes, seguindo os
critérios de trajetória bruta e líquida comentados anteriormente.
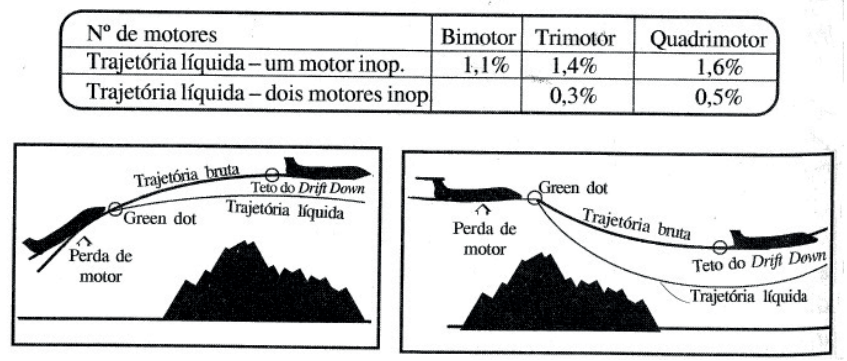
Saintive (2011) também sugere uma metodologia normalmente empregada
nos manuais de operação das aeronaves comerciais, para procedimentos de
Driftdown. Vimos anteriormente que a aeronave deve livrar em sua trajetória
líquida os obstáculos que existam ao longo da rota. Porém, muitas vezes isso não
é possível, e ela deverá selecionar uma rota alternativa ou retornar sobre a rota já
voada (imagine o cruzamento de uma cordilheira, por exemplo).
Mais uma vez surge o conceito de “PNR – Point of No Return” – um ponto da
rota a partir do qual a aeronave não tem condições de retornar pela rota original
e cumprir com o requisito de livrar os obstáculos já ultrapassados, na trajetória
líquida, com ao menos 2000 pés.
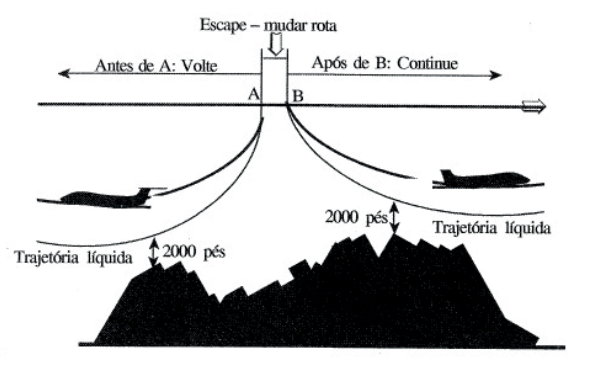
Por fim, Saintive (2011) ainda observa outra situação. Podem existir
circunstâncias em que as curvas de Driftdown não se encontrem. Então, teremos
uma nova figura – o “Ponto de Continuar” – ponto da rota no qual é possível
continuar o voo em descida, até atingir a altitude líquida e prosseguir mantendo
separação vertical de ao menos 2000 pés sobre os obstáculos.
Então, ao analisarmos a figura anterior, podemos afirmar que: ao constar a
perda de um motor antes do ponto “A”, o piloto deve retornar sobre a rota já
voada. Já se a perda do motor ocorrer após o ponto “B”, deverá prosseguir na
rota original. Porém, se a falha ocorrer entre os pontos “A” e “B”, o piloto deve
estabelecer um procedimento de escape, planejando uma rota alternativa. Não
sendo possível estabelecer essa rota, o piloto deve considerar a redução do peso
de decolagem ou alijar combustível. Em última instância, caso a redução de peso
ou a quantidade de combustível a ser alijada comprometam o voo como um todo,
deve-se considerar a realização de uma outra rota a partir da decolagem.
Bem, uma vez que a intenção de voo de todas as aeronaves comerciais é a
de normalmente decolar de um local e pousar em outro, em algum momento
da fase de cruzeiro os pilotos devem se preparar para efetuar a transição da
altitude de cruzeiro para a altitude de início do procedimento de pouso. Assim,
vamos analisar adiante alguns simples aspectos que caracterizam a descida das
aeronaves, em seguida, trataremos de requisitos para duas outras importantes
fases do voo, a aproximação e o pouso.